Quem se depara com o nome repleto de consoantes do neurocientista Stevens Kastrup Rehen se surpreende quando ele declara sua origem carioquĂssima. Criado entre os bairros da Tijuca e AndaraĂ, torcedor do Fluminense e pai de dois filhos, Rehen Ă© um dos pesquisadores mais respeitados do paĂs, especializado no estudo das cĂ©lulas-tronco.
Ainda no campo das surpresas, Rehen acumula mais de 10.000 seguidores nas redes sociais, Ăndice mais compatĂvel com os chamados influenciadores digitais do que um cientista, que traz no currĂculo o feito de ter descoberto, hĂĄ dois anos, a conexĂŁo entre o vĂrus zika e a microcefalia.
No comando da ĂĄrea de pesquisa bĂĄsica do Instituto DâOr de Pesquisa e Ensino (IDOR) e professor titular do Instituto de CiĂȘncias BiomĂ©dicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rehen costuma ser ouvido com muita atenção e nĂŁo se furta a dar suas pipetadas em assuntos como a importĂąncia da divulgação cientĂfica e a atual cultura de financiamento Ă pesquisa no Brasil â segundo ele mais afeita Ă prestação de contas do que aos resultados.
Aos 47 anos, ele nĂŁo esconde que considera o atual momento da ciĂȘncia brasileira preocupante, mas Ă© um otimista e acha que a turbulĂȘncia vai passar. âApesar de pesares, eu me considero um cientista feliz no Brasilâ, resumiu ele, durante entrevista em seu laboratĂłrio no IDOR. Confira abaixo, alguns trechos da conversa em que falou sobre sua trajetĂłria, suas pesquisas, o cenĂĄrio cientĂfico atual e o futuro.
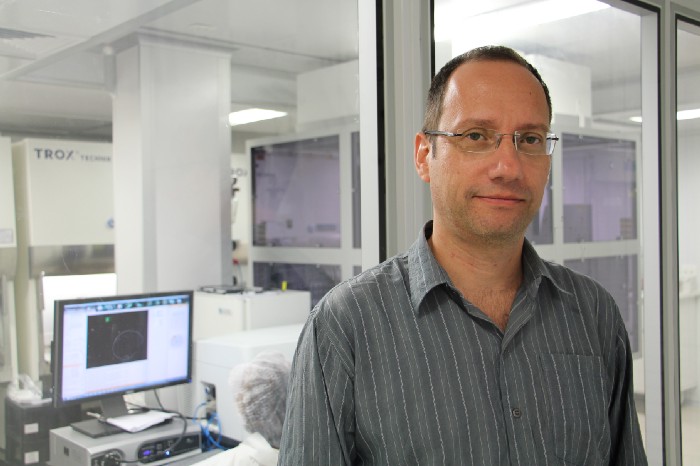
Stevens Rehen no laboratĂłrio instalado no IDOR:
em defesa de novos modelos de financiamento para pesquisa
SuicĂdio de cĂ©lulas
"Sempre tive interesse em estudar o cĂ©rebro. Talvez esteja entre as duas principais curiosidades que todo ser humano tem â a outra Ă© se um dia vamos encontrar vida extraterrestre. Assim que eu entrei na faculdade, no inĂcio da dĂ©cada de 1990, fui recrutado para estagiar no laboratĂłrio do Professor Rafael Linden no Instituto de BiofĂsica da UFRJ. Rafael pesquisava um fenĂŽmeno conhecido como morte celular programada, durante a formação do sistema nervoso. Eu tinha acabado de perder meu avĂŽ materno, e foi educativo naquela Ă©poca estudar o fenĂŽmeno da morte (celular) sendo tĂŁo importante para a formação do cĂ©rebro e da prĂłpria vida. NĂłs tentĂĄvamos entender como as cĂ©lulas sĂŁo eliminadas naturalmente durante a formação do cĂ©rebro. Algo semelhante ao excedente de massa que Ă© descartado na produção de uma escultura de argila por exemplo. Ainda no perĂodo de graduação em CiĂȘncias BiolĂłgicas na UFRJ, publicamos artigos cientĂficos sobre o tema. Um deles, que foi publicado na revista Development, e descrevia fenĂŽmenos associados Ă morte celular na formação da retina. Descobrimos que a sĂntese de proteĂnas Ă© crucial para ativar o mecanismo de morte celular programada. Ou seja, as cĂ©lulas produziam proteĂnas para se matar, em uma espĂ©cie de suicĂdio."
As meninas do âArquivo Xâ
"Depois de dez anos trabalhando nessa linha de pesquisa â durante a graduação, no mestrado e no doutorado â buscava entender melhor como esse negĂłcio funcionava, quais seriam as proteĂnas e os genes envolvidos. Resolvi ir atrĂĄs de quem tinha as ferramentas mais sofisticadas Ă Ă©poca e me candidatei para pesquisar em trĂȘs laboratĂłrios norte-americanos: em Cleveland, em Stanford e na Universidade de San Diego (UCSD). Fui aprovado nos trĂȘs, mas escolhi a UCSD. Tive uma sintonia muito grande com o responsĂĄvel pelo laboratĂłrio e que viria a ser meu chefe nos seis anos seguintes: Jerold Chun, um havaiano muito gente fina. Juntos, passamos a buscar entender o que levaria cĂ©lulas do cĂ©rebro a se matarem e, de forma ambiciosa, tentar provar que no sistema nervoso haveria um processo de geração de diversidade equivalente ao do sistema imunolĂłgico, uma descoberta feita pelo japonĂȘs Susumu Tonegawa que lhe rendeu o Nobel de Medicina e Fisiologia de 1987. Aos 26 anos, eu estava animado com a possibilidade de provar que algo parecido com a recombinação nĂŁo homĂłloga aconteceria dentro do sistema nervoso. Me lembro de um dia em que cheguei em casa, vindo do laboratĂłrio, por volta das 11 horas da noite, esquentei uma pizza e liguei a televisĂŁo. Estava passando um episĂłdio da sĂ©rie Arquivo X sobre duas meninas â uma boa e uma mĂĄ. A conclusĂŁo da trama era que elas tinham diferentes nĂveis de aneuplodia, a variação do nĂșmero de cromossomos. No laboratĂłrio, nĂłs estĂĄvamos justamente encontrando nĂveis alterados de aneuploidia no cĂ©rebro! A ficção me estimulou a perseguir a possibilidade da variação de cromossomos no sistema nervoso ter implicaçÔes, talvez, para o prĂłprio funcionamento do cĂ©rebro humano! Formulamos a hipĂłtese que o cĂ©rebro Ă© um mosaico com cĂ©lulas aneuploides que podem interferir em seu funcionamento, e começamos entĂŁo a usar tĂ©cnicas que nunca tinham sido aplicadas no ĂłrgĂŁo, como a contagem de cromossomos atravĂ©s de citogenĂ©tica molecular. Descobrimos que as cĂ©lulas do cĂ©rebro nĂŁo tĂȘm necessariamente 46 cromossomos, mesmo em pessoas normais e que essas alteraçÔes sĂŁo ainda mais marcantes em pacientes com Alzheimer. Publicamos esses resultados, o que gerou grande impacto na comunidade cientĂfica. Era uma proposta completamente fora da caixa."
Aulas em troca de mais conhecimento
"No mesmo perĂodo, participei de outra descoberta importante, publicada na revista Nature Neuroscience, demonstramos que um fosfolipĂdeo chamado LPA era capaz de formar giros e sulcos no cĂ©rebro de camundongos. Nessa mesma Ă©poca, começava nos Estados Unidos a ideia de investir de forma robusta nas pesquisas com cĂ©lulas-tronco. Pensei: âVou começar a estudar essas cĂ©lulas pois sĂŁo um super modelo para entender a formação do cĂ©rebro.â O National Institutes of Health (NIH) estava oferecendo um curso carĂssimo sobre o assunto numa cidade chamada Irvine, que fica a uma hora de onde eu morava. Comentei com o meu chefe, mas ele disse que o nosso laboratĂłrio nĂŁo pretendia trabalhar com o assunto nem tinha recursos para me bancar. Eu liguei para os organizadores em Irvine e disse: âOlha, eu nĂŁo tenho grana para fazer o curso, mas sei aplicar uma tĂ©cnica de citogenĂ©tica molecular que vocĂȘs vĂŁo adorar.â Eu consegui custear minha participação dando duas aulas no prĂłprio curso. A experiĂȘncia abriu a minha cabeça: eu aprendi a trabalhar com cĂ©lulas-tronco pluripotentes, que sĂŁo a base das minhas pesquisas atĂ© hoje."
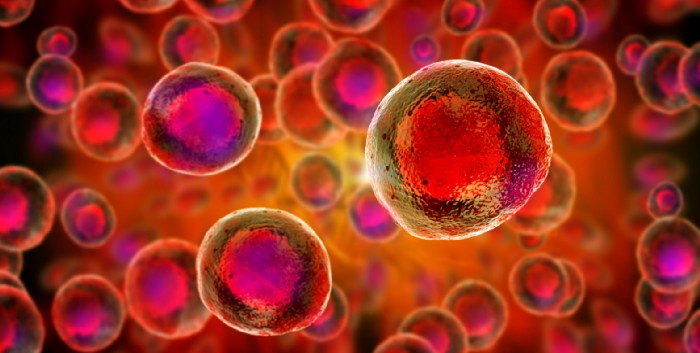
Reprodução de células-tronco: mecanismo suicida
CĂ©lulas-tronco clandestinas
"Em 2005, eu e minha esposa estĂĄvamos voltando ao Brasil. Trouxe na mudança um tanque com cĂ©lulas-tronco congeladas em nitrogĂȘnio lĂquido. Estamos falando de quatro anos apĂłs o 11 de setembro. O recipiente parecia uma bomba, mas encontrei um documento da associação das empresas ĂĄreas dos Estados Unidos comprovando que o equipamento podia ser transportado com segurança. Mesmo assim fiquei muito preocupado, temia perder as amostras, mas ao mesmo tempo era impossĂvel trazĂȘ-las de outra forma, tal a complexidade do processo. Felizmente no final deu tudo certo."
Um banheiro para chamar de seu⊠laboratório
"Assim que cheguei ao Rio, havia pouco espaço fĂsico para eu trabalhar â o que Ă© normal, vista a competição por espaço fĂsico no Centro de CiĂȘncias da SaĂșde da UFRJ. Foi quando tive um insight ao entrar no banheiro do departamento. Procurei o Professor Roberto Lent, diretor do Instituto de CiĂȘncias BiomĂ©dicas Ă Ă©poca, e falei: âEsse banheiro Ă© grande. SerĂĄ que eu nĂŁo poderia usar metade dele para fazer o meu escritĂłrio?â. O assunto foi levado Ă congregação, que autorizou a obra. Pouco tempo depois, a Finep e o BNDES abriram um edital, via MinistĂ©rio da SaĂșde, para a criação de centros de terapia celular. Submeti uma proposta juntamente com a Professora da USP, Lygia da Veiga Pereira e fomos agraciados. Foi quando nos mudamos para o quarto andar do Hospital UniversitĂĄrio Clementino Fraga Filho, da UFRJ, onde instalamos o LaboratĂłrio Nacional de CĂ©lulas-Tronco EmbrionĂĄrias (LaNCE), em 2009."
Casa nova na Copa
"Com o tempo percebemos que precisarĂamos de novas instalaçÔes para pesquisa, porque apesar de ser excelente, o laboratĂłrio tinha limitaçÔes para os estudos que pretendĂamos fazer. Comecei entĂŁo a procurar alternativas para me instalar. Foi quando dei carona para a Professora Fernanda Tovar Moll, a caminho de um congresso em Itaipava (RJ). Comentei com Fernanda: âObtive recursos para expandir as atividades do meu laboratĂłrio, mas o espaço estĂĄ se deteriorandoâ. Na segunda-feira seguinte, fui atĂ© o Instituto DâOr de Pesquisa e Ensino (IDOR) e, baseados num convĂȘnio jĂĄ existente entre a UFRJ e o IDOR consideramos a possibilidade levar o LaNCE para lĂĄ. Na Copa do Mundo de 2014 o laboratĂłrio começou a funcionar no novo espaço e desde entĂŁo utilizo cĂ©lulas-tronco para estudar psicodĂ©licos, um tipo de epilepsia chamada sĂndrome de Dravet e o vĂrus zika (o trabalho do grupo de Stevens foi o primeiro a associar a epidemia de zika Ă microcefalia)."
Descompasso pĂșblico-privado
"A pesquisa bĂĄsica depende de financiamento pĂșblico em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, hĂĄ agĂȘncias do governo que financiam grande parte da pesquisa bĂĄsica de lĂĄ. Ao mesmo tempo, o perĂodo na CalifĂłrnia me expĂŽs ao empreendedorismo aplicado Ă s ciĂȘncias biomĂ©dicas. Quando retornei ao Brasil fui convidado a participar da criação da Hygeia Biotecnologia Aplicada e foi uma experiĂȘncia em tanto.Na mesma Ă©poca fui procurado pela LâOreal, com a encomenda por neurĂŽnios sensoriais para testes de cosmĂ©ticos. Recentemente, publicamos trabalhos cientĂficos nessa linha. Nessas rodadas de financiamento privado, fui percebendo como a universidade tem dificuldade de internalizar recursos de empresas em seu prĂłprio benefĂcio. Ă necessĂĄria maior flexibilidade na relação da academia com as empresas. Nos Estados Unidos, as duas fontes coexistem de forma harmoniosa e todos ganham. No Brasil, ainda Ă© um desafio."
Fim da torre de marfim da CiĂȘncia
"A divulgação cientĂfica foi fundamental na minha escolha em ser cientista. Quando eu tinha uns 14 anos e graças a revistas como Superinteressante e CiĂȘncia Hoje eu pude entender melhor o que era o universo da ciĂȘncia. As revistas cientĂficas preenchiam uma lacuna importantĂssima do ensino fundamental. Hoje em dia, com as redes sociais, a questĂŁo ganhou novos contornos. Li recentemente uma pesquisa na Science mostrando o impacto social dos cientistas atravĂ©s do Twitter. O estudo indica que cientistas com mais de 2500 seguidores atingem um nĂșmero significativo de pĂșblico leigo e jornalistas, nĂŁo ficando restritos exclusivamente ao universo de estudantes e pares. Esse desafio de sair de nossa torre de marfim Ă© muito evidente no mundo virtual (Stevens Ă© um dos cientistas mais populares do Brasil: tem cerca de 3 mil seguidores no Twitter e 10 mil no Facebook. Ele ainda tem um blog no portal UOL, produz o podcast Papo de Cientista, Ă© colunista da Scientific American Brasil, consultor do programa Conversa com Bial, da TV Globo, e realiza palestras no Brasil e no exterior). NĂŁo podemos obrigar todos os cientistas a serem divulgadores, mas precisamos dar ferramentas para os que desejam sĂȘ-lo. Esse trabalho Ă© importante para mostrarmos para a sociedade o que fazemos, jĂĄ que boa parte dos investimentos em ciĂȘncia Ă© pĂșblico. Tem de haver clareza do destino final desses recursos."
Menos planilha, mais resultado
"Quando presto contas sobre um projeto desenvolvido com recursos de fontes internacionais, os avaliadores nĂŁo querem saber se eu comprei duas pipetas ou paguei uma ida a um congresso. Eles querem saber o que fiz de bom, quais resultados cientĂficos alcancei. No Brasil, muitas vezes o cientista nĂŁo necessariamente se preocupa em entregar o que prometeu, mas, sim, em apresentar corretamente a planilha de gastos. Estamos sendo mais treinados para fazer relatĂłrios burocrĂĄticos do que descobrir coisas importantes. A ciĂȘncia acaba sendo o de menos, fica em segundo plano. NĂŁo damos tambĂ©m oportunidades a jovens talentosos, que ainda nĂŁo sĂŁo pesquisadores do CNPq. Ă uma questĂŁo cultural que precisa ser mudada."
O cientista e o jogador de futebol
âO Brasil precisa buscar novos caminhos para a ciĂȘncia. NĂŁo pode haver insegurança e instabilidade causadas por planos econĂŽmicos que nĂŁo priorizem as ĂĄreas de ciĂȘncia e educação. Que se planeje teto de gastos mas com sensibilidade para ĂĄreas estratĂ©gicas. Se nĂŁo houver essa clareza, nĂŁo sairemos do lugar. Quanto mais houver cientistas ou tĂ©cnicos ajudando na formulação de polĂticas pĂșblicas, maiores sĂŁo as nossas chances de dar um salto de qualidade e perspectiva de futuro baseada no desenvolvimento. AlĂ©m disso, precisamos preparar melhor os jovens que estĂŁo ingressando na ĂĄrea cientĂfica. Temos que mostrar que hĂĄ outras oportunidades alĂ©m da carreira acadĂȘmica. Ă preciso haver disciplinas de empreendedorismo, inteligĂȘncia emocional, design⊠Quando vocĂȘ Ă© exposto ao mĂ©todo cientĂfico, vocĂȘ aprende a pensar de outra forma. Isso Ă© Ăștil nĂŁo sĂł ao trabalho em laboratĂłrio, mas a outras oportunidades de emprego. Estou quase com 50 anos de idade. JĂĄ passei por diversos momentos de crise. Obviamente, Ă© cansativo viver em ciclos de investimento e cortes, mas a nossa carreira Ă© uma das mais libertadoras que existe. Temos a liberdade dos jogadores de futebol, podemos trabalhar no Brasil e no mundo com uma facilidade maior do que outras profissĂ”es. Sem contar que ganhar para ter ideias e descobrir soluçÔes Ă© extremamente gratificante. O momento Ă© crĂtico, depende da nossa capacidade de comunicar para a sociedade e para quem cria as leis do paĂs a importĂąncia de investir em ciĂȘncia. De todo modo, vai passar, tem que passar. Eu me considero um cientista feliz no Brasil."













